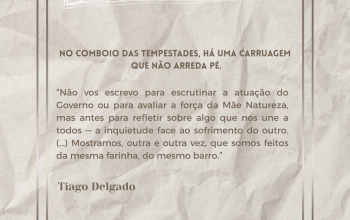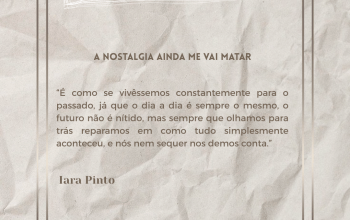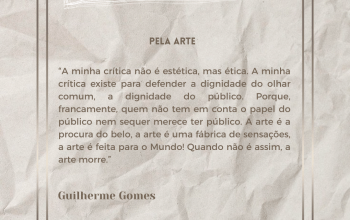Lembro-me muito bem de ter dez anos e querer ter dezoito.
Lembro-me de calçar os sapatos de salto alto da minha mãe e brincar ao faz de conta porque eu achava que ser adulta era só isso: um sapato de salto alto.
Lembro-me de querer sair de casa e de deixar de ouvir a minha mãe reclamar do meu quarto, enquanto eu via televisão descansada no sofá depois de ter feito os deveres, ou da conversa monótona que lhe retribuía sempre que me perguntava “como foi o teu dia?” ou “o que é que aprendeste hoje na escola?”.
Lembro-me de ter dezasseis anos e torcer o tornozelo enquanto descia as escadas. Lembro-me das dores, que ainda hoje vão aparecendo ainda que mais leves, e de durante semanas não conseguir sair da cama. Perguntavam-me várias vezes como é que aquilo ia e eu só queria responder, com toda a minha ironia, que não ia. Queria ter dez anos e continuar a brincar ao faz de conta.
Hoje, tenho dezoito anos e vi-me “forçada” pelo destino e pela pressa do crescimento e do tempo, a viver fora da minha terra e das minhas raízes, a viver com uma pressão cómica sobre o meu sotaque e a aprender a lidar com o facto de que não sou perfeita e de que nem tudo voa ao ritmo do meu sopro.
Nunca soube bem como descrever esta sensação que se assemelha, na minha ótica, ao nascer de novo. De um momento para o outro, a vida fez questão de se certificar que eu aprendia a andar, a falar e a conviver como se tivesse acabado de nascer, numa cidade que não é minha e que me apresentou nada mais do que confusão.
Mas o que aperta mais é o coração e as saudades do colo da mãe, da comida da avó ou da mera semelhança de sotaques. Sinto falta de quem não se ria cada vez que eu diga palavras como “oitenta” ou “dente”. E não minto quando digo que, às vezes, também sinto muita falta de quem entenda as minhas referências à ponte da ermida, às cerejas ou às cavacas.
Há dias em que tenho muitas saudades de casa e há outros em que não me permito sentir nada, em que trago comigo uma dor adormecida pela estranha sensação de autonomia que vou ganhando com o passar do tempo, dos autocarros perdidos e das máquinas de café que comem moedas às terças-feiras logo pela manhã.
Cheguei a esta cidade que traz o Corgo aos pés de malas e bagagens, cheias de pequenos nadas que durantes muitos anos foram o meu tudo. Eram tudo o que tinha e tudo o que pensava que era e que seria para sempre. Descobri tempos depois que me limitaram muitas vezes os movimentos e me silenciaram muitas vezes a voz. Trazia comigo, tatuadas na minha pele, a insegurança e a curiosidade do futuro, que me era estranho porque nunca me aproximei demasiado. Sempre tive medo dele e do crescimento que com ele vinha de mãos dadas e pressa nos pés.
Passaram-se seis meses e hoje já sei quase que de cor, como se fosse poema ou canção que toca na rádio, os horários dos autocarros e as salas ou anfiteatros em que tenho aulas, sei como fazer citações e referências bibliográficas, conheço atalhos para os Polos e conheci, até, um café que nos ama com a estética, que me acolhe durante a semana e que faz as melhores torradas que eu já comi na minha vida.
Mas há coisas que nunca mudam.
Às quintas à noite é momento de fazer a mala, da análise apressada para me certificar de que não esqueço nada para o fim de semana.
Às quintas à noite é tempo de sonhar com o chegar a casa, com o abraço do avô e as discussões sobre o futebol que houve durante a semana, de sonhar com a comida da avó e o carinho da mãe.
Às sextas é dia de acordar cedo, de arrumações e limpezas, é dia de apanhar autocarro e comboio, dia de mandar mensagem mal entre no autocarro e no comboio para que o avô me vá buscar à estação. E o maldito fim de semana passa tão depressa que parece verão.
E chega ao domingo e eu já só quero que quinta volte a ser e a mala eu tenha que fazer, para que possa reviver a sensação de voltar a adormecer na minha cama, tal como se fosse a primeira vez. É a felicidade de voltar ao sítio e às pessoas que me trazem paz e serenidade, que inconscientemente anestesiam o peso da idade e das responsabilidades.
É a saudade que faz de nós gato sapato quando quer e bem lhe apetece.
Chega a terça e eu já só queria voltar a ter dez anos e chegar a casa da escola, ter o lanche pronto e a conversa do “como foi o teu dia?”.
Queria poder sentar-me à mesa com a minha mãe, com as perninhas cruzadas à chinês, enquanto lhe contava que alguém elogiou o penteado que ela me tinha feito de manhã com muito carinho. Duas tranças embutidas com duas molas coloridas em formato de borboleta. E eu era feliz quando lhe dizia “- Mãe, estás-me a puxar o cabelo!”. Agora queria que a vida não me puxasse para longe dela.
Agora, ligo-lhe por videochamada e desligo rápido porque estou muito cansada.
Agora, falamos de dinheiro, contas e responsabilidades, de compras para a casa e de previsões para o futuro. Hoje em dia falamos sobre como dar o nó na gravata do traje ou como alargar os sapatos para não fazer ferida e eu só queria voltar a ter dez anos e acordar com um beijinho de bom dia.
Hoje acordo com uma mensagem e com um peso de saudade e nostalgia do que já tive um dia e não volto a ter nunca mais.
Às vezes zango-me com a vida por não me ter feito parar de crescer para que no colo da minha mãe eu pudesse sempre caber.
Maria Filipe