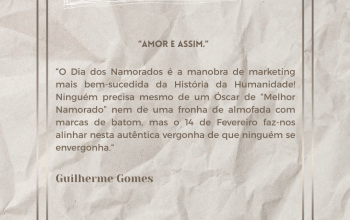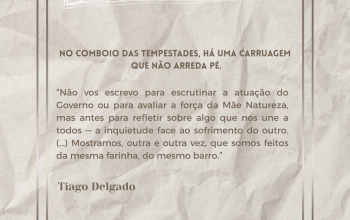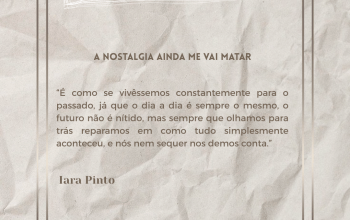Está ele sentado, Pessoa, de seu chapéu preto largo, perna cruzada, com o livro do Desassossego em mãos, quando, de súbito, entra Álvaro de Campos. De pernas lentas, dirige-se à cadeira, senta-se longamente, mirando de soslaio o seu conhecido amigo e rompe com o silêncio através de um suspiro, dizendo:
– Quero sentir tudo de todas as maneiras.
Pessoa, reconhecendo a sua voz íntima, olha-o com desdenho, levantando os olhos do livro.
– Tu não sabes o que dizes. – atira Pessoa, atordoado com tal comentário. A seguir, olha para o copo meio cheio, e torna a engolir o restante vinho que este continha. Leva-o para dentro de si e sente-se momentaneamente zonzo.
– Porquê? – apressou-se o Álvaro a questioná-lo.
– Querer não é poder. Quem pôde, quis antes de poder só depois de poder. Quem quer nunca há-de poder, porque se perde em querer.
– Pois…um inútil. Enfim, mas posso fingir.
– O poeta é um fingidor. Finge tão completamente, que chega a fingir que é dor. A dor que deveras sente.
O Álvaro fica em silêncio. É certo que o seu subconsciente lhe diria que talvez o que o amigo lhe dizia era certo, correto, eficaz; mas, sentir, sentir tudo, todas as coisas, de todas as formas e feitios, oh!, como era assim que a vida se levava. Não obstante, refletiu naquelas palavras. Enfim, o Álvaro sempre achou que o Fernando falava mais do que aquilo que devia e que, de cada vez que o fazia, sentia sempre que queria fugir dali a sete pés. Às vezes, preferia nem dirigir a palavra a Fernando Pessoa.
– É um copinho de água, faz favor! – diz alguém, entrando sem calcular para onde estaria a ir, despertando a atenção de Campos.
Com uma camisa aos quadrados, um bafo tórrido a esvoaçar-lhe pela boca, umas gotículas de suor a escorrer-lhe pela testa vermelha, trazia consigo na mão uma cesta com couves, com tomates e batatas. Reparou que os seus amigos o olhavam e sentou-se também ele na mesa com eles, perscrutando ambos os semblantes. Mas nada entendeu.
– Vieste da horta, Alberto Caeiro? – pergunta logo o Álvaro, na tentativa de dar fuga aos seus próprios pensamentos.
– Fui, como reparas.
– Vais confecionar uma sopa? – troçou ele, espreitando para dentro da cesta que o Alberto começava a pousar.
– Não tenho pressa. Pressa de quê? Não têm pressa o sol e a lua: estão certos. Ter pressa é crer que agente passa adiante das pessoas ou que, dando um pulo, salto por cima da sombra.
Álvaro enruga a testa e o Pessoa aproveita-se para rir timidamente, como se fosse guardar aquele segredo para ele.
– Eia! eia! eia! eia-hô-ô-ô! Hup-lá, hup-lá, hup-lá-hô, hup-lá! é-la! He-hô! H-o-o-o-o! Zz-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z! – exclamou ele, aturdido, já não aguentando as lengalengas de um e do outro – Também tu?
Fernando Pessoa, com os olhos arregalados e de sorriso posto nos lábios, olhou para o homem do balcão, fez-lhe um gesto com a mão e pediu – Dá-me mais vinho porque a vida é nada!
– Eu desisto! – diz Álvaro exasperado, já a preparar-se para se levantar da mesa – Eu não consigo falar com vocês.
E sai.
Um cliente habitual da taberna, que estava sentado ao balcão a conversar sossegadamente com o proprietário, ao ver aquele cenário ficou incrédulo. Abanou a cabeça, com os seus óculos pendurados no nariz.
– Você já viu aquele ali? – apontou ele para Fernando Pessoa, que estava sentado na mesa, à espera de um novo copo de vinho – A falar sozinho?
– Oh, Pedro Chagas Freitas, nem toda a gente pode degenerar de ti essa habilidade literária. Uns perdem a cabeça no álcool e ficam ali sentados, perdidos da vida, com alucinações como aquele coitado, já outros, escrevem umas coisas e vendem livros.
– Tem razão, Chico. Tem razão.
Ana Marques