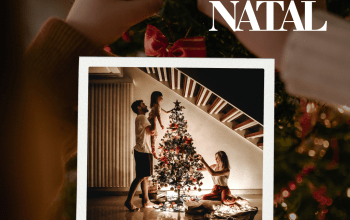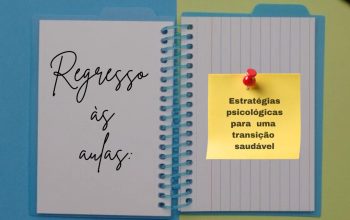O verão é frequentemente retratado como a estação da felicidade, liberdade e bem-estar, com tempo de lazer, férias, convívio social e experiências ao ar livre. Contudo, esta imagem idealizada reflete apenas uma construção sociocultural (Gross & Levenson, 1997).
A pressão para se sentir bem, estar ativo, sociável e aproveitar ao máximo o clima e as férias pode gerar sentimentos de inadequação e desconforto, especialmente entre aqueles cuja experiência subjetiva não se alinha com esse ideal. Desta forma, a Psicologia tem procurado compreender este fenómeno para além dos estereótipos culturais (Gross & Levenson, 1997).
A narrativa social que liga o verão à alegria e ao relaxamento constitui aquilo que alguns investigadores identificam como um “mito cultural da felicidade sazonal”. Tal como se observa na intitulada “síndrome do Natal”, esta idealização pode exercer uma pressão significativa sobre os indivíduos, originando uma discrepância entre o que se espera sentir e o que efetivamente se sente (Twenge et al., 2020).
A pressão cultural, ancorada ao ideal normativo que ignora a diversidade de temperamentos e experiências pessoais, culmina numa crescente expectativa de “felicidade obrigatória”. Surge, por isso, um fenómeno paradoxal: quanto maior a expectativa de bem-estar, maior o risco de frustração quando esta não se concretiza (Gruber et al., 2011). Este processo contribui para uma forma insidiosa de sofrimento emocional, pouco reconhecida socialmente, mas validada na prática clínica (Vogel et al., 2014).
Do ponto de vista neuropsicológico, o verão pode intensificar a experiência de desconforto sensorial. A exposição prolongada à luz intensa, ruído e excesso de estímulos visuais e/ou auditivos pode resultar numa sobrecarga do sistema nervoso, especialmente em indivíduos neurodivergentes (por exemplo, com perturbação do espetro do autismo ou perturbação de ansiedade generalizada). Estes, acompanhados pela hipersensibilidade sensorial, estão mais sujeitos à fadiga cognitiva, irritabilidade e dificuldade de autorregulação emocional quando os estímulos são persistentes ou imprevisíveis (Robertson & Baron-Cohen, 2017).
A sobrecarga sensorial (ou sensory overload) é uma resposta neurobiológica em que o cérebro é exposto a estímulos excessivos que não consegue processar adequadamente, resultando em fadiga, irritabilidade, ansiedade ou até crises emocionais (Robertson & Simmons, 2017). A exposição contínua à luz solar intensa pode interferir com a regulação emocional, o sono e a perceção de segurança, afetando negativamente o bem-estar psicológico (Baranek et al., 2006).
Uma relação cada vez mais importante e visível é a estabelecida entre altas temperaturas e a saúde mental. Numa era caracterizada pela rápida e preocupante mudança climática, detetamos que temperaturas elevadas têm efeitos fisiológicos e psicológicos no ser humano (Zhao, 2022).
A conexão corpo-mente é essencial para a saúde, e as ondas de calor ou períodos com altas temperaturas, acompanhados sequencialmente pelo desconforto físico e/ou doença, agravam as perturbações de humor e ansiedade, irritabilidade, stress, dificuldades de concentração e danos no cérebro (Rony & Alamgir, 2023).
Um termo cada vez mais popularizado é o FOMO, fear of missing out (medo de ficar de fora). Este é um tipo de ansiedade caracterizado pelo medo de perder ou ficar de fora de experiências sociais recompensadoras, especialmente característico nesta época (Przybylski, 2013).
O FOMO está regularmente associado a efeitos adversos, tais como sentimentos negativos, fadiga, stress, falta de validação pessoal e prejuízo na rotina de sono, alimentados pelo medo da exclusão social. Este medo, que impulsiona as pessoas a procurar ativamente por informação, coloca o indivíduo num ciclo vicioso de comparação social (especialmente através redes sociais) que compromete o bem-estar subjetivo (Piko et al., 2025).
A exposição contínua a estas condições afeta habilidades cognitivas e intelectuais, alterando padrões de sono, motivação, humor, prazer, agitação, paciência e tolerância (Rony & Alamgir, 2023; Piko et al. 2025). Realça-se ainda o verão como um palco privilegiado para a expressão de normas culturais que valorizam a extroversão, a sociabilidade e a constante atividade, alavancando a valorização da exteriorização emocional, associada à procura ativa de experiências prazerosas, contato social e estímulos sensoriais intensos (Twenge et al., 2020). No entanto, esta valorização tende a invisibilizar outras formas igualmente legítimas de vivência emocional e pessoal. Pessoas naturalmente introvertidas tendem a sentir-se deslocadas no verão. Para indivíduos com estas características, esta estação pode representar um momento de dissonância entre o ambiente exterior e o mundo interno (Aron, 2010). Práticas de autoconhecimento e autocompaixão exibem-se como conceitos-chave para os efeitos negativos da inibição de emoções em função das normas externas (Gross & Levenson, 1997).
Compreender e aceitar as próprias necessidades emocionais e físicas durante esta estação, e todas as outras, pode constituir um processo transformador. O autoconhecimento permite identificar, por exemplo, o impacto do calor no próprio humor, a aversão a multidões, a preferência por rotinas mais calmas ou o desgaste provocado por interações sociais prolongadas. É algo libertador quando percebido. É um auxiliar na escuta do corpo e da mente com atenção e respeito, mesmo quando o ambiente envolvente aponta numa direção oposta (Gruber et al., 2011).
Por sua vez, a autocompaixão convida a uma atitude interna de aceitação, livre de julgamento. Reconhecer que não há nada de errado em não gostar do verão, ou em não se sentir “no espírito da estação”, é um passo essencial para a preservação do bem-estar psicológico (Gruber et al., 2011).
É de frizar que está tudo bem em não seguir certos padrões sociais, o desenvolvimento do autoconhecimento e da autocompaixão relembram que é igualmente importante priorizarmos aquilo de que mais gostamos, com a mesma gentileza que se ofereceria a um amigo, reconhecendo limites, validando emoções e resistindo à comparação social como único critério de valor pessoal (Gross & Levenson, 1997; Vogel et al., 2014; Piko et al., 2025).
Referências
Aron, E. N. (2010). The highly sensitive person: How to thrive when the world overwhelms you.
Broadway Books.
Baranek, G. T., David, F. J., Poe, M. D., Stone, W. L., & Watson, L. R. (2006). Sensory
experiences questionnaire: Discriminating sensory features in young children with autism,
developmental delays, and typical development. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 47(6),
591–601. https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2005.01546.x
Gross, J. J., & Levenson, R. W. (1997). Hiding feelings: The acute effects of inhibiting negative
and positive emotion. Journal of Abnormal Psychology, 106(1), 95–103.
Gruber, J., Mauss, I. B., & Tamir, M. (2011). A dark side of happiness? How, when, and why
happiness is not always good. Perspectives on Psychological Science, 6(3), 222–233.
Piko, B. F., Müller, V., Kiss, H., &Mellor, D. (2025). Exploring contributors to FoMO (fear of
missing out) among university students: The role of social comparison, social media addiction,
loneliness, and perfectionism. Acta Psychologica, 253, 104771.
Przybylski, A. K., Murayama, K., DeHaan, C.R., & Gladwell, V. (2013). Motivational, emotional,
and behavioral correlates of fear of missing out. Computers in Human Behavior, 29(4), 1841–1848.
Robertson, A. E., & Baron-Cohen, S. (2017). Sensory perception in autism. Nature Reviews
Neuroscience, 18(11), 671–684. https://doi.org/10.1038/nrn.2017.112Rony, M. K. K., & Alamgir, H. M. (2023). High temperatures on mental health: Recognizing the
association and the need for proactive strategies – A perspective. Health Science Reports, 6(12),
e1729. https://doi.org/10.1002/hsr2.1729
Twenge, J. M., Spitzberg, B. H., & Campbell, W. K. (2020). Less in-person social interaction
with peers among U.S. adolescents in the 21st century and links to loneliness. Journal of Social
and Personal Relationships, 37(6), 1892–1913. https://doi.org/10.1177/0265407519836170
Vogel, E. A., Rose, J. P., Roberts, L. R., & Eckles, K. (2014). Social comparison, social media,
and self-esteem. Psychology of Popular Media Culture, 3(4), 206–222.
Zhao, Q., Yu, P., Mahendran, R., & et al. (2022). Global climate change and human health:
Pathways and possible solutions. Eco-Environment & Health, 1, 53–62.
Autoria: Nupsi
Imagem: Érica Oliveira