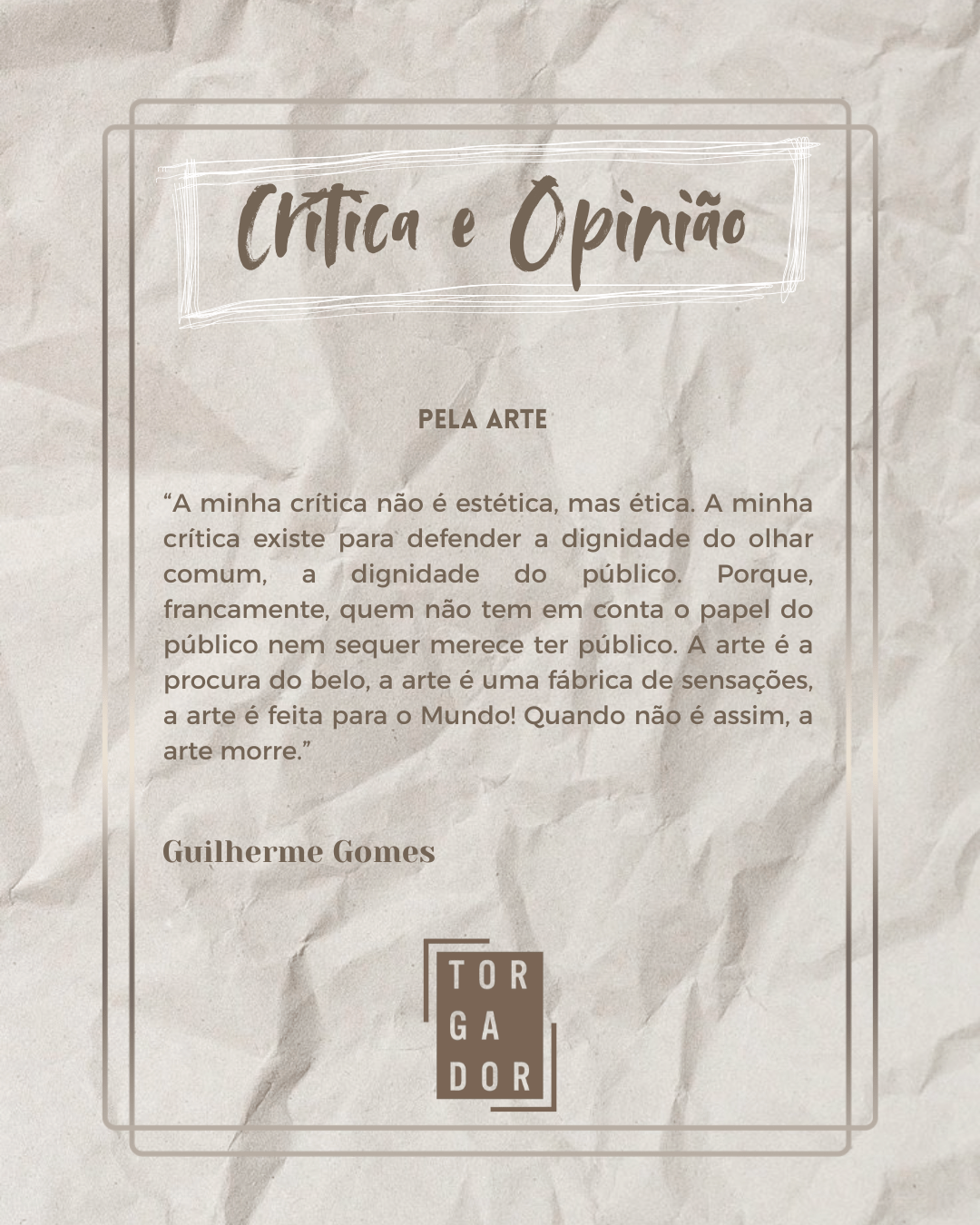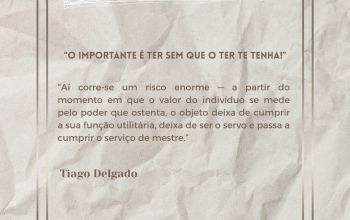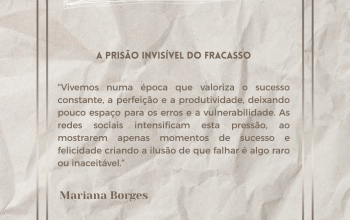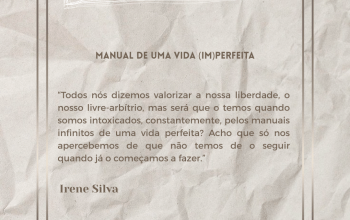Este artigo foi escrito ao abrigo do antigo acordo ortográfico.
No último dia 18, a candidatura de Manuel João Vieira, o célebre
“Candidato”, conseguiu arrecadar mais de 60.000 votos, constituindo um
resultado absolutamente histórico! O descontentamento da população tem levado
ao crescimento da extrema-direita no nosso país, algo que eu considero, para além
de extremamente perigoso, profundamente imbecil e inconsequente. Por esta
razão, não consigo colocar a mobilização em torno da figura de Manuel João Vieira
no mesmo saco do protesto, mas sim, tal como defendeu António Costa Santos,
no saco do niilismo e do desencanto com a política.
Apesar do que eu fui lendo durante as semanas de campanha, o Candidato
Vieira não é uma “arma do status quo” nem um “fantoche para roubar votos aos
candidatos a sério”, mas pura sátira, e a sátira é importantíssima, cada vez mais! E
digo isto porque, francamente – e recorrendo ao vernáculo -, o Manuel João está-se
a cagar para o que a opinião pública pensa dele e causar prurido ao status quo é a
sua coisa favorita. A única mensagem que eu acho que este músico, artista plástico
e professor quer deixar é: “Eu reuni as assinaturas necessárias, entrei nos boletins,
e a minha candidatura deve ser levada tão a sério como as restantes, ou seja,
zero.”.
Esta é uma excelente mensagem que deveria ser recebida, interiorizada e
colocada em prática, porque a verdade é que as coisas só têm a importância que
nós lhes queremos dar. A sátira, enquanto objecto artístico, é uma dessas coisas.
No entanto, outras matérias há que se consideram intrinsecamente relevantes,
como se a sua importância começasse e se encerrasse em si mesmas. Na política,
é fácil e recomendável fazer-se sátira; no que toca à cultura, parece que a
aceitação é muito menor.
A cultura e a arte são parte integrante da identidade humana. Devem ser
valorizadas, defendidas e dinamizadas. No entanto, o que se verifica é um
crescente desinteresse por parte dos públicos em Museus, Galerias de Arte,
Teatros, etc. Pode-se apontar como uma explicação possível e perfeitamente
plausível para este fenómeno o advento das redes sociais ou mesmo a perda de
poder de compra das famílias, não só no nosso país, mas um pouco por todo o
Mundo. Eu arriscaria apontar uma outra razão – que, estou convencido, acaba por
ter tanta ou mais importância que estas – para explicar este afastamento: a
existência de um elitismo cultural e uma certa hostilidade simbólica em torno dos
fenómenos culturais. O que eu verifico é que os espaços de cultura têm menos
adesão do que o que se pretenderia porque não existe um sentimento de pertença
por parte do público. O discurso elitista do “Não gostas porque não percebes”
afasta mais as pessoas do que aquilo que as motiva a ir saber mais, porque cria
uma insegurança e a ideia de que “Não vou, porque não quero parecer inculto”. Isto
leva, inevitavelmente, a que se crie um círculo vicioso, com as instituições a
culparem o público pelo desinteresse que elas próprias criaram.
Esta institucionalização da cultura e apropriação por parte das elites
culturais, dos ditos “entendedores”, afasta as pessoas comuns, que não se revêem
na linguagem e na teoria por eles usada, que deveria ter como função esclarecer,
mas acaba por se transformar num instrumento de exclusão. Quando a arte deveria
ser sobre o provocar de emoções e de sensações em quem a recebe, esta
interpretação intelectual dogmática soa a arrogante e anti-artística. Quando um
criador, em qualquer vertente artística sem excepção, lança uma obra ao Mundo,
ela deixa de lhe pertencer. Qualquer intenção ou interpretação feita a priori tornase irrelevante, porque agora são aqueles para quem criamos que têm de fazer o seu
próprio juízo de valor. Excluir o público desta equação quando ele rejeita uma obra
é tratá-lo como ignorante, é desmerecer a sua leitura e criar uma carapaça que
torna o artista inatacável. É este sistema artístico institucional que apodrece e
sabota a arte como um todo a partir de dentro. É esta auto-salvaguarda, esta
protecção de si mesmo em detrimento do serviço ao público (que, torno a frisar,
deveria ser a principal preocupação de um criador) que destrói a criação cultural e
afasta ainda mais a elite do consumidor comum.
Quando o princípio de uma vertente artística vanguardista, como é o caso
da arte contemporânea, é o mesmo que norteia o populismo – “Falem bem ou
falem mal, o que interessa é que falem de mim” – a arte perde força. Quando uma
obra é considerada válida só porque existe discurso à volta dela e não porque
comunica algo real, ela transforma-se em algo oco, sem espinha dorsal. Esta
intenção de chocar só por chocar não é, de maneira nenhuma, prova de sucesso
artístico nem uma certificação de a criação tem valor real. É apenas, mais uma vez,
o artista a colocar-se numa posição de imunidade: se o público gostar, ele ganha;
se não gostar, ganha na mesma. Ser falado não é o mesmo que ser bom, e quem
deve ter o poder de determinar se algo é bom, em última instância e como tenho
vindo a defender, não é o criador nem os críticos enciclopédicos, mas o público a
quem a obra é dada. O que acontece, muitas vezes, é o público projectar
significado em obras vagas, porque aprendeu que isso é o esperado. Neste ponto,
a interpretação passa a ser mais importante que a peça em si, a legitimidade passa
a estar na autoridade de quem interpreta. Isto só contribui para que se perca valor
e experiência estética, que é só o que está na génese da produção artística!
A verdade é que as coisas só têm a importância que nós lhes queremos dar.
Nada é intrinsecamente importante ou valioso. Um diamante vale o que vale,
porque nós queremos que ele valha; e não falemos de raridade ou unicidade
porque existem coisas mais raras que um diamante que não valem absolutamente
nada aos nossos olhos. Partir deste pressuposto é perigoso, e faz com que haja o
risco de coisas se tornarem “intocáveis” por convenção social e não por mérito
real. Infelizmente, a cultura tornou-se um desses territórios protegidos
artificialmente e é justamente aqui que volto a resgatar o papel da sátira. A sátira é
fundamental porque desmonta falsas hierarquias e expõe o ridículo do poder das
elites. A sátira incomoda precisamente quem se leva demasiado a sério, porque
tem medo de perder estatuto simbólico. E quando se percebe que esta cultura
institucional tende a tolerar menos a sátira e a crítica do que a própria política,
descartando-a como sinal de ignorância, isso é revelador do quão antidemocrático se tornou esse sítio em que todos deveriam ser bem-vindos.
Eu acho que deu para perceber que eu não escrevi este texto porque detesto
a arte, mas exactamente pelo contrário. Eu tenho é medo que este sistema que se
montou à volta dela – esse, sim, que eu odeio – acabe, mais tarde ou mais cedo,
por contribuir para a sua destruição. A minha crítica não é estética, mas ética. A
minha crítica existe para defender a dignidade do olhar comum, a dignidade do
público. Porque, francamente, quem não tem em conta o papel do público nem
sequer merece ter público. A arte é a procura do belo, a arte é uma fábrica de
sensações, a arte é feita para o Mundo! Quando não é assim, a arte morre.
Guilherme Gomes